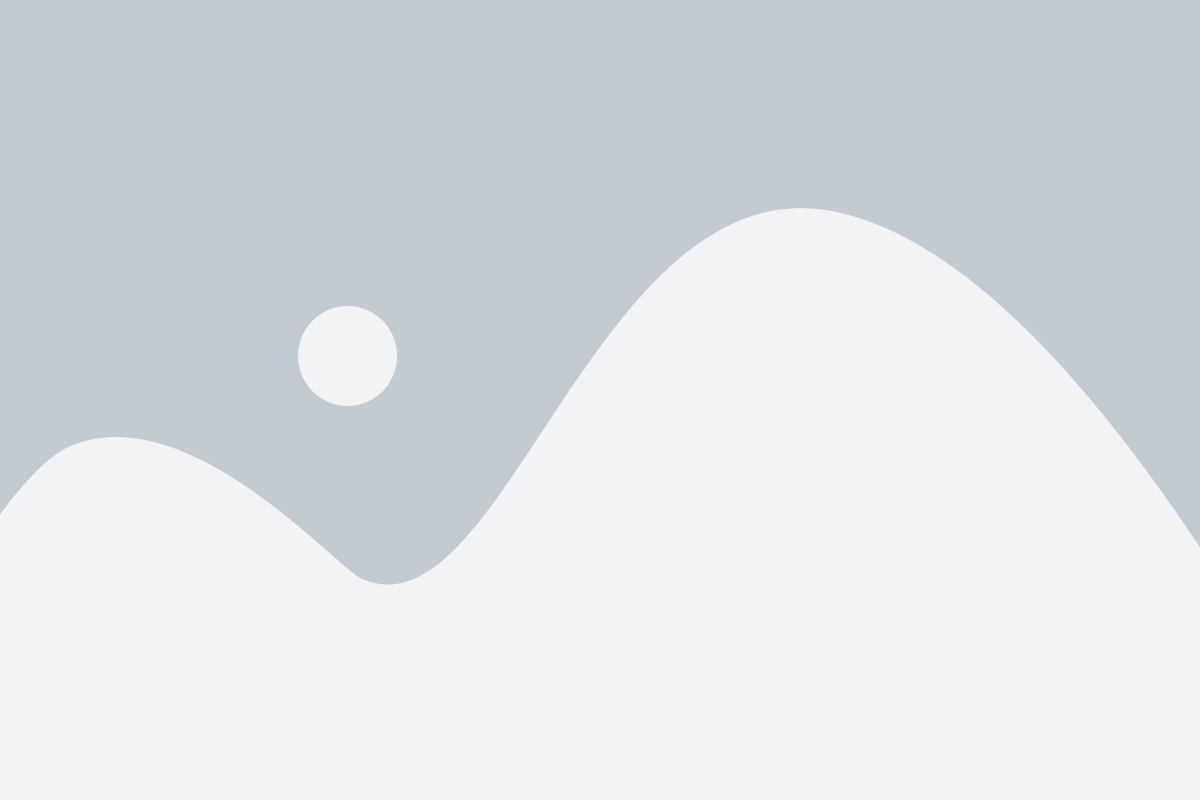Há dez anos, aprovou-se por unanimidade na Assembleia da República a alteração à lei da nacionalidade conhecida como “lei dos sefarditas”. Afirmou-se no debate parlamentar que se pretendia “a promoção do retorno a Portugal dos descendentes dos judeus expulsos ou perseguidos” (Simões Ribeiro, PSD), fez-se votos de que “‘a planta do pé dos judeus’ que têm raízes em Portugal ‘aqui ache descanso'” (Maria de Belém, PS) e falou-se mesmo em “reparação histórica” por ser “muito bom podermos tê-los de volta” (Ribeiro e Castro, CDS).
Quase uma década passada (a lei entrou em vigor em 2015), deve-se aferir se era real o desejo de “retorno” a Portugal que os deputados tomavam por generalizado nos judeus sefarditas espalhados pelo mundo. “Voltaram”?
O número de locais de culto judaicos em Portugal manteve-se estável nestes anos: quatro sinagogas. Mas o número de residentes que se identificam como “judeus” nos censos do INE até baixou: passaram de 3061 em 2011 para 2910 em 2021. Sublinhe-se: certificados pelas sinagogas de Porto e Lisboa quase 140 mil processos de aquisição de nacionalidade, concluídos pelo Estado mais de 50 mil, a pequena comunidade de três mil judeus que realmente cá vive teve um ligeiro declínio. Todavia, bastaria que apenas 1% dos que obtiveram a nacionalidade (ou seja, uns quinhentos cidadãos) aqui viessem residir para que essa comunidade crescesse. Mas o “retorno” não aconteceu. Nem é plausível que aconteça.
O interesse na nacionalidade portuguesa destes nossos novos compatriotas tem uma explicação prosaica: para nacionais de Israel, da Turquia ou do Brasil (respetivamente, 69%, 15% e 7,5% dos naturalizados pela “via sefardita”), um passaporte da União Europeia abre novas portas pelo mundo, sem novos deveres e por um custo individualmente razoável. Multiplicado por dezenas de milhares de processos, esse custo (250€ por certidão) ascende aos milhões de euros e enriqueceu tremendamente a sinagoga do Porto (quase 90% dos pedidos de nacionalidade, muito acima de Lisboa), uma pequena comunidade religiosa de 400 pessoas que financia filmes com orçamentos milionários.
É triste que uma lei feita com o pensamento elevado numa “reparação” aos judeus massacrados pelas turbas quinhentistas, perseguidos pela Inquisição ou pelos nazis, caia na realidade rasteira de um negócio de venda de passaportes por intermédio de sinagogas. Um negócio que nacionaliza principalmente israelitas que nem devem saber apontar Portugal no mapa, e em menor número oligarcas russos coniventes com a autocracia de Putin, em ambos os casos pessoas que não querem partilhar o nosso destino, falar português ou sequer residir em Portugal. Mas evidencia que as leis de “reparação histórica” são uma ilusão: não se emenda o mal feito a falecidos, e é um absurdo fazê-lo 15 ou 20 gerações depois (distância à qual qualquer um de nós tem entre 30 mil e um milhão de antepassados).
Respeitar estritamente a laicidade do Estado teria evitado a trapalhada vergonhosa em que se converteu a “lei dos sefarditas”. Respeitar a laicidade não delegando tarefas estatais em comunidades religiosas, particularmente uma tarefa de especial responsabilidade como a instrução de processos de nacionalidade. E respeitar a laicidade com leis universais que não distingam cidadãos por religião, como aliás estipula o artigo 13.º da Constituição (a “lei dos sefarditas” ignora completamente os descendentes de muçulmanos ou protestantes que saíram de Portugal devido a perseguições religiosas).
Retirar direitos a pessoas por serem de uma religião foi um erro manuelino mas típico do tempo medieval; conferir direitos a indivíduos por serem dessa mesma religião é um erro moderno, mas anacrónico, numa época em que se caminha para não distinguir cidadãos pela religião ou pela etnia.
Não há razões válidas para o Parlamento adiar a inevitável revogação desta lei.
(Ricardo Alves, Público, 18 de Fevereiro de 2023)